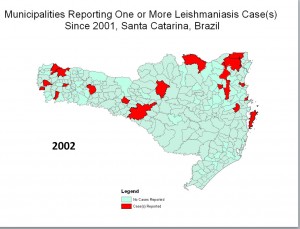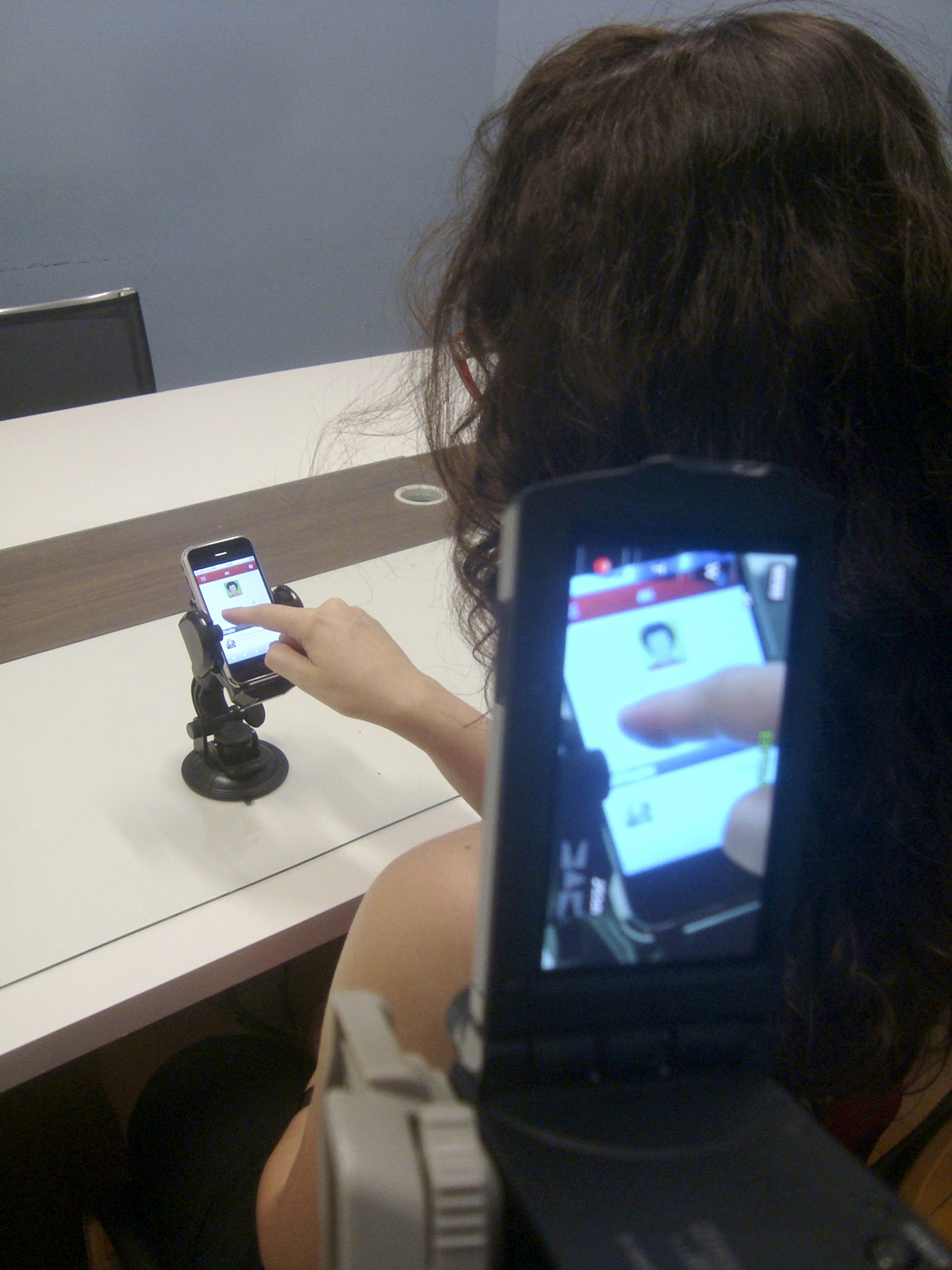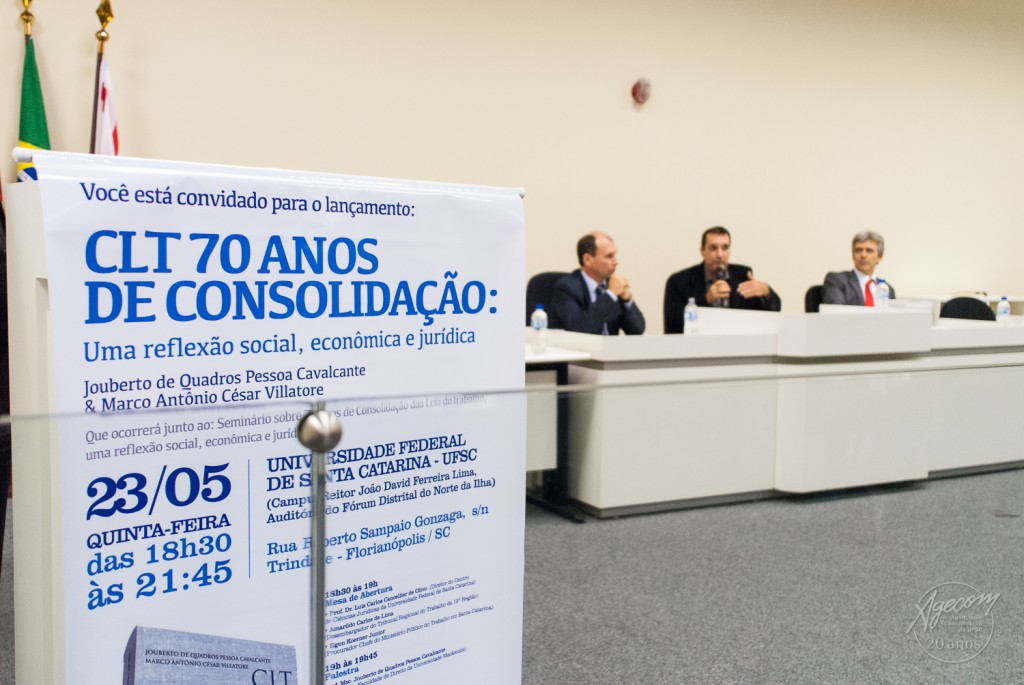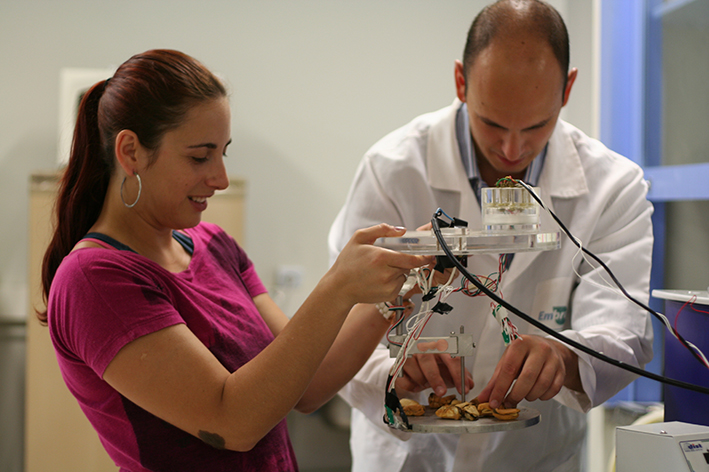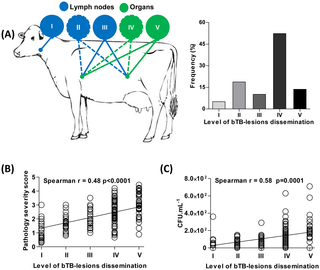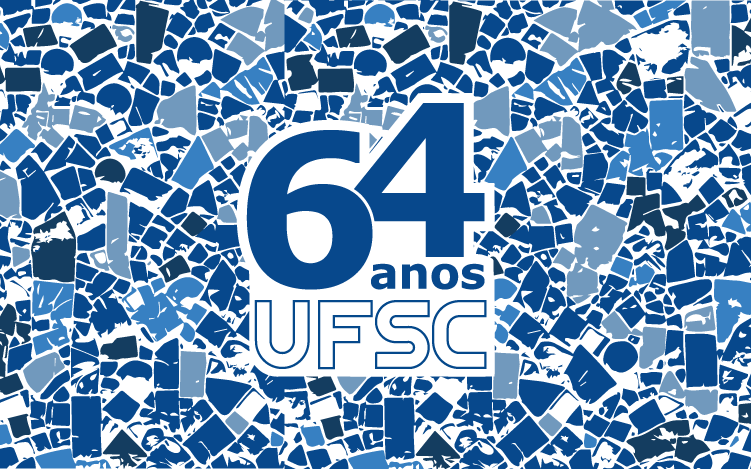Com linguagens, temáticas e estratégias diferentes, três brasileiras ousaram fazer cinema na década de 1970, enfrentando a ditadura e pela primeira vez colocando em pauta a situação da mulher. O cinema realizado por Tereza Trautman, Ana Carolina e Helena Solberg é o tema da tese de doutorado da historiadora Ana Maria Veiga, defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina e que teve orientação da professora Joana Maria Pedro. Apesar das diferenças, o cinema de cada uma trazia questões ligadas à situação da mulher e deu visibilidade a temas como a busca pela emancipação social, política e a livre manifestação da sexualidade. “Ao longo do estudo faço um contraponto entre a ditadura e o movimento feminista”, explica Ana Maria.
Durante quatro anos de pesquisa, as buscas levaram Ana Maria a arquivos em São Paulo, Rio de Janeiro e Paris (França), onde passou um ano para o seu doutorado sanduíche na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Ela teve acesso a revistas e jornais do período, aos filmes das autoras, além de conseguir entrevistar duas das diretoras. Também realizou um estudo aprofundado sobre o cinema que estava sendo feito na época por mulheres em países como Argentina, Cuba, Itália, França, Bélgica, Inglaterra e Brasil. A tese traz um panorama do cinema que influenciou as três cineastas, retratando desde o Neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague francesa, o Cinema Novo brasileiro e o chamado Cinema de Mulheres, que mostra o feminismo em debate no cinema.
O resultado deste trabalho está registrado na tese “Cineastas brasileiras em tempos de ditadura: cruzamentos, fugas, especificidades”, que faz de Ana Maria uma das poucas pesquisadoras brasileiras a trabalhar na intersecção entre história, cinema e gênero. Uma das propostas é desvendar experiências importantes que aconteceram no período, além do Cinema Novo. “A ideia é mostrar que outras formas de cinema existiram e que foram maneiras de instrumentalizar o cinema também por uma revolução que era social, que era política, e que era essa revolução das mulheres proposta pelo feminismo”, afirma. Nesta entrevista, Ana Maria relata como foi a sua trajetória de pesquisa:
– Como você escolheu o tema de pesquisa?
Durante as pesquisas de mestrado, que era sobre Brasil e Argentina, descobri os primeiros curtametragens da argentina Maria Luiza Bemberg, a única mulher cineasta daquele período que atuava no país. Seu primeiro curta, de 1972, “El mundo de la mujer”, me chamou a atenção pela estética e política. Comecei a pesquisar gênero e ditadura, cinema e ditadura, mulheres que fizeram filmes naquele momento. No Rio de Janeiro, fiz uma pesquisa no Programa Avançado de Cultura Contemporânea, coordenado pela Heloísa Buarque de Hollanda, que lançou um catálogo sobre as cineastas brasileiras do período da ditadura. Foi quando descobri a Helena Solberg, a Tereza Trautman e a Ana Carolina.
– O que as cineastas têm de comum e o que é único para cada uma?
Em comum, as três são brasileiras, fizeram filme durante o período da ditadura militar, embora cada uma tenha escolhido uma estratégia diferente. Politicamente elas vinham na onda de emergência dos movimentos feministas, principalmente naqueles anos 70, e da resistência de esquerda ao governo autoritário.
– As temáticas são parecidas?
Não, cada uma enfrentou o período da ditadura militar de uma maneira diferente. Enquanto a Helena Solberg saiu do Brasil e fez documentários, a Tereza Trautman ficou, bateu de frente com a censura e saiu perdendo. A Ana Carolina é o exemplo mais conhecido e foi a cineasta que conseguiu driblar a censura. Naquele momento da história, mulheres fazendo filmes foi um acontecimento, nos chamados “novos cinemas”. Outro ponto interessante é como cada uma utilizou o cinema para questionar, por um lado, gênero, que era condição feminina, e por outro lado o regime militar e seus valores moralizantes.

Helena Solberg mudou-se para os EUA na década de 70, onde passou a dirigir documentários sobre a mulher na América Latina. Foto: reprodução.
– Qual foi a trajetória de cada uma?
A Helena Solberg mudou-se para os Estados Unidos em 1971, então conseguiu fugir da ditadura. Aí está uma das fugas de que o título da tese aborda. Ela teve uma formação profissional dentro do cinema novo, apoiada pelo Glauber Rocha. Ela teve a montagem do primeiro curta feita pelo Rogério Sganzerla, que não era cinema-novista, mas era do cinema marginal. Se ela tivesse continuado no Brasil, provavelmente iria fazer o cinema dentro dessa linha também. Nos EUA, ela teve contato com o movimento feminista, participou de encontros, cursos, envolvendo-se com a temática das mulheres naquele momento.
O primeiro documentário foi em 1973 e se chamou “The Emerging Woman”, que falava dos 200 anos da história da mulher estadunidense. Para surpresa dela, foi um grande sucesso, recebeu prêmios e foi adotado por todas as escolas do país para discutir a questão que, na época, era denominada “condição feminina”. Conseguiu um contrato com a TV pública estadunidense, a Public Broadcasting Service (PBS) e começou a produzir documentários sobre na América Latina. Formou um grupo de mulheres que trabalhavam com cinema e viajou com elas pelo continente latino-americano. Ela ficou conhecida nos EUA e no Brasil como a cineasta da América Latina.
Seus dois primeiros filmes, “La doble jornada” e “Simplemente Jenny”, foram voltados para as mulheres pobres trabalhadoras, um cinema de cunho social e político. Uma estética em que ela colocava a equipe em cena, uma proposta também de contra-cinema, das teóricas feministas dos anos 70, que era expor que aquilo que está sendo mostrado é uma construção também, mesmo sendo um documentário. No “Simplemente Jenny”, de 1979, ela tematizou a sociedade boliviana com jovens infratoras de um reformatório. Ali ela vai explorando a partir da fala delas o sonho de cada uma e vai contrapondo com imagens de desfiles de moda, daquilo que se queria mostrar como a mulher boliviana e que era bem distante da realidade delas.
Em “La doble jornada” ela vai atrás de mulheres trabalhadoras, vai às minas da Bolívia, indústrias argentinas, camponesas carregando os filhos nas costas, então é a dupla jornada dessas mulheres no trabalho e dentro de casa. Na Nicarágua, ela fez “From the ashes: Nicaragua today”, que relata a crise no final dos anos 1970. Em 82 ela volta ao Brasil e faz “Brazilian Connection” (A conexão brasileira), falando sobre os 18 anos do regime militar no Brasil. Em 83, realizou “Chile by reason or by force”, falando dos dez anos do regime do general Pinochet no Chile.

Tereza Trautman dirigiu “Os homens que eu tive”, de 1973, que ficou sete anos interditado pela censura. Foto: reprodução.
– Como foi a experiência da Tereza Trautman?
A Tereza Trautman abordou a liberação da mulher em 1973, num momento tomado nas telas cinematográficas pelas pornochanchadas. Basicamente eu trabalho na tese com o filme “Os homens que eu tive”. Ela faz um filme de produção própria colocando a mulher como dona do seu corpo, do seu desejo sexual, podendo usar isso da maneira como ela bem entender. O filme não tem cenas explícitas de sexo. A protagonista é da zona sul carioca, que era para ter sido interpretada pela Leila Diniz, que morreu antes de iniciar as filmagens.
O filme estreou no Rio no Cine Roxy, com os 1800 lugares completamente lotados. Depois estreou em Belo Horizonte até que, de acordo com a justificativa de um funcionário da censura, houve um telefonema para o alto escalão do Ministério da Justiça dizendo que o filme era imoral, que atentava contra a mulher brasileira, que era um absurdo que aquilo estivesse em cartaz.
Quando vai estrear em São Paulo, coincidentemente na Semana da Pátria de 1973, o filme é interditado por questões morais. Eu pesquisei em 28 documentos existentes sobre a interdição do filme pela censura e a questão principal é que a protagonista era uma mulher casada, e que o marido permitia que ela tivesse amantes. A produtora Herbert Richers entrou com vários pedidos de liberação. A própria Tereza ia para o Ministério diariamente para tentar conseguir uma explicação, porque outros filmes que ela julgava semelhantes eram liberados e o dela não.
A liberação só aconteceu em 1980, sete anos depois, e depois de tanto tempo havia uma expectativa sobre o filme e sobre a Tereza Trautman, ovacionada como a primeira diretora do cinema brasileiro. Mas quando estreou, o filme já estava defasado. A crítica o considerava pequeno, com a temática superada, pois nos anos 80 a TV brasileira já apresentava Malu Mulher, a Marta Suplicy falava de sexo na TV. Em 1980 aquele filme ganhou interpretações anacrônicas. Não há uma compreensão histórica do que ele representou naquele momento. Depois ela foi fazer um filme só em 87, que é “Sonhos de Menina Moça”, em que ela ainda traz temas da ditadura.

Cineasta Ana Carolina realizou na década de 70 a trilogia “Mar de Rosas”, “Das Tripas Coração” e “Sonho de Valsa”. Foto: reprodução.
– E a Ana Carolina?
A Ana Carolina acaba sendo o exemplo mais conhecido pela trilogia sobre o que ela chamou na época de “condição feminina”: “Mar de Rosas”, “Das Tripas Coração” e “Sonho de Valsa”. A diretora usa provérbios e a linguagem popular para discutir o senso popular, o não questionamento das coisas e dos acontecimentos, a opressão militar e das mulheres. Em “Mar de Rosas”, de 1977, ela trabalha com a questão da mãe e da filha, do casamento, da sua condição de “santa esposa”. A protagonista, Felicidade, corta o pescoço do marido com uma gilete e foge com a filha. Ela começa a ser perseguida por um homem misterioso num fusca preto, o que remete aos grupos paramilitares, à repressão, aos torturadores. A filha é a revolucionária, aquela que senta de pernas abertas, fala palavrão, e que os adultos tentam reprimir, mas não conseguem. A personagem mostra a nova geração de mulheres que vêm se levantar contra os padrões estabelecidos. O filme foi o grande sucesso de Ana Carolina, inclusive fora do Brasil.
O segundo filme, “Das Tripas Coração”, foi interditado 10 meses, mas depois foi exibido na íntegra. Ela usa uma metáfora que hoje pode ser considerada ingênua, mas foi sua maneira de driblar a censura. Na história, um interventor vai a um colégio interno para fechá-lo. Enquanto as diretoras não chegam, nos cinco minutos que fica esperando, ele cochila. O filme todo é o sonho dele. As internas do colégio revolucionam. É toda a questão do desejo, da sexualidade, elas discutem, aparece o desejo lésbico, uma consonância com as discussões do movimento feminista. Mostra também a questão da igreja católica. Uma das alunas faz xixi no meio da missa. Uma coisa que eu falo na minha tese que eu não encontrei em outros autores que trabalham com esse filme é a questão de alvejar a ditadura por meio da incidentalidade musical. Ela trabalha muito com os hinos nacionais, seja com a ida do interventor ao banheiro assoviando o hino nacional, seja com uma brincadeira com o hino da independência.
Mesmo o terceiro filme, “Sonho de Valsa”, de 1977, Ana Carolina ainda discute o regime, a ditadura civil-militar. Mostra uma mulher que sai da tubulação de esgoto e vai para o meio de uma parada militar de 7 de setembro, toda suja, maltrapilha. É muito interessante a maneira como ela ainda traz presente a sensação que eu imagino que ficou para grande parte dos brasileiros depois que o regime acabou: a sensação de que houve uma continuidade, de que o poderio militar ainda continuou. O governo seguinte foi do José Sarney, que foi parte civil da ditadura.
– As três fizeram parte do movimento feminista?
A Helena Solberg e a Teresa Trautman se envolveram com o movimento feminista, participaram de grupos. A Ana Carolina não. A gente vê que ela tem toda uma postura feminista, que os filmes têm uma tendência de ser considerados feministas, mas no discurso dela, ela se identifica com o “cinema de autor”, lançado pela Nouvelle Vague francesa. Ela não queria ser rotulada apenas como feminista, porque isso era assumir todo um preconceito que viria junto com esse termo naquele momento e até posteriormente. Então a Ana Carolina não participou do movimento, seguiu a linha dela, mas os filmes dela são muito importantes para essa discussão naquele momento.
– Elas fizeram parte de algum grupo em comum, se encontravam, faziam parte de um movimento?
Não. Apesar de duas delas terem participado de um guarda-chuva, que foi o movimento feminista, de encontros e de reuniões de conscientização. Eu tentei explorar isso como um leque de possibilidades. Não houve uma homogeneidade ao lidar com isso como produção cinematográfica. O que houve foram caminhos próximos.
– Qual é a relação dos cinemas realizados pelas diretoras com o Cinema Novo?
Nos anos 60 e 70, o cinema novo brasileiro se consolidou mundialmente por seu cunho político. O Glauber Rocha, que foi seu ícone, tinha voz fora do Brasil, com artigos nos Cahiers du Cinéma e em outras revistas. Eles estavam preocupados com a revolução, a opressão geral da América Latina. E é claro que, em se falando de cinema brasileiro nos anos 60 e 70 o que se valoriza? Esse cinema novo. Uma das propostas da minha tese é justamente isso: contrapor o cinema realizado por mulheres ao cinema novo, que era o único que esteve iluminado. O resto era como se não existisse. Venho trazendo isso para mostrar que outras formas de cinema de contestação existiam, tendo chegado ao público ou não. Foram maneiras de instrumentalizar o cinema também por uma revolução que era social, que era política, e que era essa revolução das mulheres proposta pelo feminismo.
– Você estudou o cinema feito por mulheres de outros países?
Estudei a Agnès Varda que, apesar de belga, realizou toda a sua carreira na França. Seu primeiro filme, La Pointe Courte, de 1954, foi visto como precursor da Nouvelle Vague francesa: uma nova proposta, nem tanto na política, mas o começo de uma revolução estética. Outra que eu trabalho é a Chantal Akerman. Seu filme mais polêmico e emblemático é o “Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles” (1975). É uma mulher na situação do pós-guerra, que ficou viúva, tem um filho, recebe uma pequena pensão do marido, morto na guerra, e que se prostitui para viver. O filme relata três dias na vida da Jeanne Dielman e está totalmente alinhado com a proposta feminista do contra-cinema. Outra diretora foi a cubana Sara Gómez, que em 1974 fez “De Cierta Manera”, uma crítica da chamada condição feminina e da estrutura cubana do pós-Revolução. Trabalhei também com a italiana Lina Wertmüller e com a britânica Laura Mulvey, que fez “Riddles of the Sphinx” (O Enigma da Esfinge), de 1976, e coloca na prática a proposta teórica de contra-cinema, da ruptura com o cinema hegemônico, hollywoodiano, e reverte a situação da representação da mulher, o que ela trabalha no seu principal texto que é “Prazer visual e cinema narrativo”. Então eu vi toda essa ligação e segui as influências apontadas pelas três brasileiras. A Helena e a Tereza mencionam a Varda e a Lina Wertmüller. A Ana Carolina, pela questão de cinema de autor, até fala da Varda, mas ela se identifica e até é comparada com Luis Buñuel. Trabalho com filmes do Neorrealismo italiano, da Nouvelle Vague francesa, venho discutindo um pouco esses cinemas com o que elas estavam fazendo, no que se diferenciavam. É um panorama daqueles anos, dos novos cinemas no pós-guerra e a ruptura radical delas também com os próprios inspiradores.
– O que é cinema de mulheres?
A expressão “cinema de mulheres” foi cunhada de maneira política. Ali nos anos 70, principalmente, houve uma teoria feminista do cinema na Inglaterra que propunha um contra-cinema, principalmente a partir dos trabalhos da Laura Mulvey e da Claire Johnston. Elas falavam da importância das mulheres em reverter a representação das mulheres no cinema, sempre realizada por diretores homens. Elas alegavam que havia uma manipulação, que estava na hora das mulheres tomarem as câmeras como um ato político e mostrar que o cinema era uma construção. Dentro dessa proposta cunhou-se o termo “Cinema de mulheres”. Na época começaram os festivais de filmes de mulheres em Nova York (Estados Unidos) e em Edimburgo (Escócia), em 1972. No final dos anos 70 surgiu na França o Festival International de Films de Femmes, que existe até hoje, em Créteil. Naquele momento era o cinema como instrumento do movimento feminista. Por isso que eu falo que o cinema de mulheres é datado, é um acontecimento principalmente dos anos 70. Na tese, eu trabalho com o termo “cinema realizado por mulheres”, que não é só o “cinema de mulheres”. A Ana Carolina se recusa a dizer que fez “cinema de mulheres”. Mesmo assim, ela levou seu filme para o festival de cinema de Créteil, que é de cinema de mulheres. Essa é uma das muitas contradições e ambiguidades que eu procuro discutir na tese. A própria questão do essencialismo, uma das principais contradições do movimento feminista. Porque é essencializar dizer que existe um cinema de mulheres, que é diferente ter uma mulher por trás da câmera. Esse debate aparece na imprensa, com diversos pontos de vista, mesmo dentro de uma mesma revista. Algumas diretoras acham que sim, que é um posicionamento político importante, outras acham que não, que elas são autoras, são artistas.
– Qual foi a repercussão do trabalho delas que você encontrou nas pesquisas?
Nas pesquisas na Cinemateca de São Paulo fui atrás de jornais da época, do que se falava sobre as três cineastas. Nos anos 70 e 80 estava em alta a discussão das mulheres no cinema, “as novas diretoras”, “mulheres por trás das câmeras”. De certa maneira elas foram conhecidas. Em uma matéria na Folha de São Paulo nos anos 70, a Helena Solberg é vista como cineasta da América Latina. Ela ficou bastante conhecida nos EUA, por ter tido acesso a TV. Na França, da Ana Carolina eu encontrei duas situações em jornais de lá, mas no Brasil ela estava em quase todas as matérias sobre mulheres no cinema. Claro, o Cinema Novo brasileiro aparecia muito mais. Da Tereza Trautman não aparece nada nos jornais franceses, pois ela tinha sido interditada. No Brasil ela foi bastante comentada em dois momentos: quando o filme saiu em 73, a imprensa noticiou bastante e depois em 80, no relançamento do filme. Uma coisa interessante da Tereza é que ela conseguia liberação para participar dos festivais fora do Brasil. Por exemplo, em 76 houve um festival em Toronto de filmes censurados. O filme dela foi exibido em sessão dupla com “Mimì metallurgico ferito nell’onore” (1972), da Lina Wertmüller. Ou seja, ela participou em festivais fora do Brasil, enquanto o filme estava interditado. Um dos críticos que é elogioso ao filme fala que “Tereza Trautman está longe de ser identificada com a postura feminista, o filme dela vai muito além disso”. Ele tenta “salvar” a Tereza do estigma do feminismo, só que ela mesma confirma que estava totalmente envolvida. Então quem se assumia como feminista corria um risco.
– Risco de que?
Risco de que na carreira ela fosse estigmatizada como uma cineasta feminista, apenas. Porque os debates sobre feminismo eram muito acalorados. Falavam que as mulheres eram lésbicas, mal-amadas. Isso aparece em vários textos analisados e nas entrevistas. No Laboratório de Estudos de Gênero e História (LEGH) da UFSC, do qual faço parte, temos mais de 150 entrevistas de mulheres no período da ditadura militar e muitas delas falam exatamente nisso: além da luta pela emancipação e igualdade, elas tinham que enfrentar esse rótulo reacionário.
– Como foram as entrevistas?
Tive a sorte de a Heloísa Buarque de Hollanda ter me colocado em contato com a Helena Solberg e com a Tereza Trautman, então além dos filmes eu trabalhei também com entrevistas. Elas me ajudaram muito com a versão delas daquela história toda, o que elas, mulheres, pessoas, estavam vivendo naquele momento, sentindo. Quando a Tereza Trautman fala da interdição, os olhos dela cospem fogo, até hoje. Então são vidas atravessadas por toda essa situação.
– Como foi a experiência na França?
Foi bem proveitosa. Passei um ano vinculada à École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), com financiamento da Capes. A possibilidade de acessar outros arquivos e acervos abre a cabeça, dá uma visão mais geral. Tanto que apesar de falar nas três cineastas, trago muita coisa de outros cinemas também, porque para mim é impossível fazer um recorte e não olhar para todo o entorno e o que está acontecendo. Principalmente se elas sinalizaram alguns caminhos, algumas trocas e influências, por onde elas passaram, e a própria crítica foi apontando o caminho delas, as associações, as identificações de cenas com as de outros autores. Olhando hoje, fazer esta tese foi um trabalho grande, mas no final as coisas foram se encaixando de uma maneira que eu achei interessante.
Saiba mais:
Veja alguns artigos escritos pela historiadora Ana Maria Veiga sobre temas que aborda na tese :
:: ‘Cineastas amordaçadas’: A ditadura militar e alguns filmes que o Brasil não viu. Revista História Agora, v. 1, p. 142-166, 2012.
:: Gênero e cinema: uma abordagem sobre a obra de duas diretoras sul-americanas. Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas (UFSC), v. 11, p. 111-128, 2010.
Mais informações:
Ana Maria Veiga – amveiga@yahoo.com.br
Laura Tuyama / Jornalista da Agecom / UFSC
laura.tuyama@ufsc.br
Fotos: reprodução.