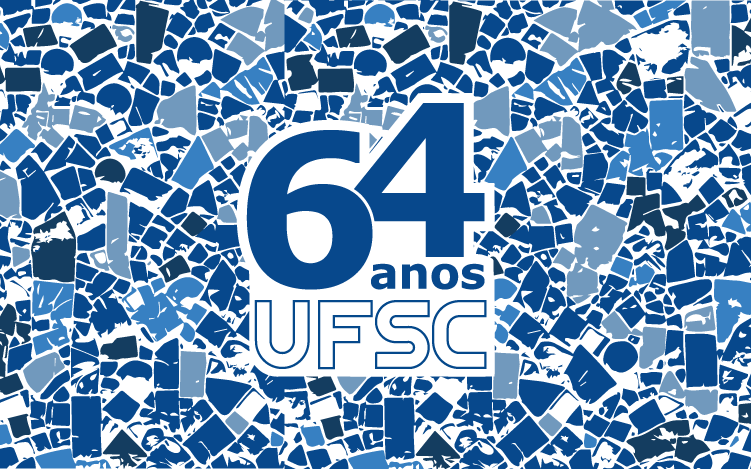Jornalismo em debate: credibilidade da mídia é tema de seminário
O Seminário Internacional: mídia, política e credibilidade da informação jornalística marcou os nove anos de fundação do Observatório da Ética Jornalística (objETHOS) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e contou com duas mesas redondas para debater as temáticas Credibilidade jornalística e Mídia, política e a cobertura das eleições 2018. O evento, promovido pelo objETHOS, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo (PPGJOR) e do Departamento de Jornalismo, ocorreu no dia 30 de novembro, no Auditório Elke Hering da Biblioteca Universitária (BU/UFSC). Realizado em dois períodos, pela manhã os palestrantes abordaram temas relacionados a credibilidade jornalística e na parte da tarde os convidados debateram Mídia, política e a cobertura das eleições 2018.
Para Samuel Lima, pesquisador-chefe do objETHOS, as mesas abordaram temáticas coerentes ao projeto de ensino do curso. “São temas correlatos ao que se discute em sala de aula tanto ao produzir uma notícia quanto ao se discutir teoria do jornalismo e teoria da comunicação”, enalteceu. O objETHOS é um projeto iniciado em 2009, com o objetivo de estudar e monitorar a ética praticada pela mídia e por jornalistas. Integram o projeto pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR), da Universidade Federal Fluminense (UFF), da Associação Educacional Luterana BOM JESUS/IELUSC e da UFSC.
Sobre a palestra Credibilidade jornalística
A mesa de abertura do evento teve como debatedores Francisco Belda, professor da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), e Jacques Mick, professor do PPGJOR da UFSC e pesquisador do objETHOS. Como mediadora, a mesa contou com Lívia Vieira, professora do curso de Jornalismo da faculdade Bom Jesus/Ielusc, em Joinville (SC).
“Eu me entendo como um repórter que acabou tendo uma carreira um tanto errática”, começou Francisco Belda. Ocupando cargos variados num jornal – foi desde vendedor de anúncios a repórter e editor -, especializou-se em jornalismo científico e fez doutorado em engenharia de produção. “Esse trânsito me permitiu aprender algumas coisas de áreas diversas”, afirma.

Francisco Belda, um dos coordenadores do Projeto Credibilidade, fala sobre a criação de ferramentas e técnicas para solucionar a crise de credibilidade do jornalismo. Foto: Pipo Quint /Agecom/UFSC
Sua inclinação pela ciência o conduziu a uma busca pelo aprimoramento das técnicas do discurso jornalístico – ele acredita que a qualidade da informação é um dos fatores determinantes na queda da credibilidade da área. Para exemplificar, Francisco Belda aponta dados da Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015, realizada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República. Segundo a pesquisa, 27% dos brasileiros disseram confiar “sempre ou muitas vezes” em notícias obtidas na internet.
Buscando soluções para a crise de credibilidade do jornalismo, Francisco Belda coordena o Projeto Credibilidade, junto a Angela Pimenta, jornalista e presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo (Projor). A iniciativa é o capítulo brasileiro do Truth Project, criado em 2015 pelos jornalistas Sally Lehrman, Richard Gingras e Craig Newmark. Com o objetivo de refletir sobre o panorama midiático atual e desenvolver ferramentas para auxiliar a distinguir o jornalismo digital confiável, o Projeto Credibilidade elaborou o Manual da Credibilidade Jornalística, que aborda temas como jornalismo e democracia e a desinformação na história.
Francisco Belda trabalhou conceitos presentes no manual durante o evento, como a “desordem da informação”. Nesse contexto, as notícias podem ser categorizadas em três grupos: Mis-Information (quando há o compartilhamento de informações falsas, sem intenção de dano), Des-informação (quando há o compartilhamento de informações falsas, com intenção de dano) e Mal-informação (quando há o compartilhamento de informações genuínas, com intenção de dano).
Com o objetivo de auxiliar o leitor a distinguir essas notícias de notícias qualificadas, o Truth Project desenvolveu, em parceria com 75 organizações de imprensa nos Estados Unidos e Europa, um sistema de indicadores de qualidade. Francisco Belda explica que os indicadores de credibilidade assemelham-se às informações nutricionais contidas nos rótulos de alimentos, que podem ser utilizadas pelos consumidores para classificar certo produto como saudável ou nocivo.
Foram estabelecidos oito indicadores. (1) “melhores práticas: quais são seus padrões?”, busca esclarecer para o público os financiadores do veículo, bem como proprietários, sócios e patrocinadores, a missão, a data de fundação e os compromissos éticos; (2) “expertise do autor: quem reportou isso?”, recomenda que sejam exibidos detalhes sobre o jornalista que escreveu a matéria, incluindo formação acadêmica e idiomas e outras matérias em que atuou; (3) “tipo de trabalho: o que é isso?”, orienta o uso de etiquetas para distinguir gêneros como opinião, análise, humor e publicidade de reportagens noticiosas; (4) “citações e referências”, recomenda a sinalização e identificação clara e rastreável do material fornecido pela fonte da reportagem; (5) “métodos”, estabelece que, para matérias em profundidade, devem ser fornecidas informações sobre como os repórteres decidiram apurar a matéria e o que fizeram durante o processo; (6) “apuração local?”, recomenda o uso de ferramentas que permitam saber quando a matéria tem origem ou expertise local; (7) “diversidade de vozes”, busca revelar os esforços da redação para trazer perspectivas diversas para a reportagem; (8) “feedback acionável”, demonstra os esforços da redação para estimular a colaboração do público.
Os indicadores de credibilidade estão em processo de implementação. Pelo Truth Project, participam desde o início veículos como The Economist, The Washington Post, The Globe and Mail, the Independent Journal Review, entre outros. Pelo Projeto Credibilidade, está um consórcio de mídia formado por 17 entidades, incluindo jornais como Nexo, Folha de S.Paulo, O Globo, Piauí e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).
Segundo Francisco Belda, o “projeto é um passo, e não a caminhada toda”. Ele explica que são muitos os indicadores de credibilidade, inclusive subjetivos, mais complicados de categorizar. O pesquisador diz que a implementação do sistema desenvolvido é trabalhosa, mas não difícil, e pode contribuir para que o jornalismo continue a desempenhar sua função de tornar a “sociedade arejada”.

Jacques Mick (primeiro à direita) acredita no protagonismo das universidades como impulso para a transformação do panorama midiático atual. Foto: Pipo Quint/Agecom/UFSC
Jacques Mick, em sua fala, também apontou dados que demonstram a crise de credibilidade do jornalismo. De acordo com o Índice de Confiança Social (ICS) de 2018, pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), o nível de confiança nos meios de comunicação caiu de 61% em 2017, para 51% em 2018. “A mídia jornalística vive uma perda de confiança”, diz o pesquisador.
Nesse sentido, Jacques Mick utiliza duas categorias para classificar a desconfiança na mídia: confiança desconfiada e desconfiança utilitarista. Para ele, na primeira categoria enquadram-se as pessoas que acreditam que o jornalismo produz conhecimento relevante, mas que é preciso ser cauteloso com ele. Na segunda, estão as pessoas que aceitam ou repudiam o jornalismo enquanto as informações são coerentes ou não com o que acreditam.
Segundo o pesquisador, a transformação desse cenário será possível com a regeneração do jornalismo, que deve abandonar o conservadorismo existente na produção de conteúdos, adotando uma mudança da linguagem. Em suas palavras, é necessário que haja “originalidade, atrevimento e disposição a correr riscos”.
No entanto, Jacques Mick adverte que a transformação não partirá de grandes mídias. Para ele, o protagonismo deve ser das universidades, pois acredita que o déficit educacional brasileiro é uma das raízes dos problemas quanto à interpretação de textos, sejam estes noticiosos e publicados pela imprensa ou não. “Nós vamos ter que fazer em pouco tempo o que não fizemos em séculos de história”, afirma o pesquisador.
Atuando nesse sentido, o objETHOS criou o projeto de extensão “Educação para a Crítica de Mídia nas Escolas Públicas”. A iniciativa tem como objetivo levar aos estudantes o conhecimento crítico acerca de assuntos veiculados na imprensa, como feminismo, questões de gênero e casos de suicídio, de modo a gerar reflexões sobre a leitura crítica da cobertura jornalística. O projeto está sendo realizado desde o segundo semestre de 2017, com coordenação do professor Samuel Lima, apoio do doutorando do POSJOR/UFSC, Ricardo Torres, e colaboração de uma equipe de voluntários.
Para mais informações sobre a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015, realizada pela Secom, acesse o relatório a partir da página 93, e para saber mais sobre o Índice de Confiança Social de 2018, levantamento realizado pelo Ibope, acesse o link.
Maria Clara Flores /Estagiária de Jornalismo da Agecom / UFSC
Fotos: Pipo Quint / Agecom / UFSC