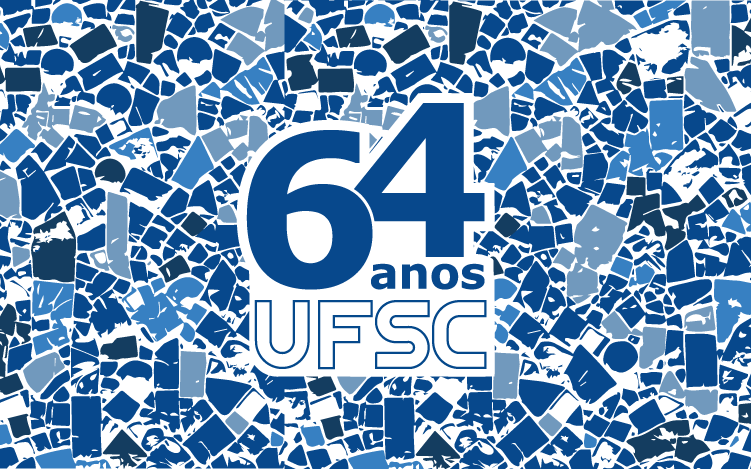Democracia no cenário pós-eleitoral 2018 é tema de mesa-redonda na UFSC
 Golpe. Neoliberalismo. Fascismo. Eleições. As reflexões levantadas por Joana Célia dos Passos (CED/UFSC), Sandra Noemi Cucurullo de Caponi (CFH/UFSC) e Luis Felipe Miguel (UnB) versou sobre ‘Perspectivas para a Democracia no cenário pós-eleitoral’ durante o segundo encontro do Ciclo de Debates do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) da Universidade Federal de Santa Catarina, realizado na manhã do dia 14 de novembro, no Auditório do Centro.
Golpe. Neoliberalismo. Fascismo. Eleições. As reflexões levantadas por Joana Célia dos Passos (CED/UFSC), Sandra Noemi Cucurullo de Caponi (CFH/UFSC) e Luis Felipe Miguel (UnB) versou sobre ‘Perspectivas para a Democracia no cenário pós-eleitoral’ durante o segundo encontro do Ciclo de Debates do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) da Universidade Federal de Santa Catarina, realizado na manhã do dia 14 de novembro, no Auditório do Centro.
Miriam Furtado Hartung, diretora do CFH, enfatizou na abertura a necessidade de pensar o futuro, pois é na universidade que se reflete, discute e reage às tentativas de subtração do pensamento. “A produção de conhecimento, em específico na área de humanidades, significa um contínuo processo de reflexão como forma de propor mundos mais igualitários e justos”.
O propósito da mesa foi instigar o pensamento crítico sobre a situação da vida política e social no Brasil nos dias de hoje, no período pós-eleição. A primeira a falar, Passos reafirmou a importância de, sempre, o espaço acadêmico se colocar para o debate em um diálogo franco e aberto. “O Brasil se fez pela violência e o que nos faz, volta e meia reafirmar a essa lógica, é porque não saímos ainda desse ciclo. O que vivemos agora, com a ‘saída do armário’ dessa onda conservadora, homofóbica, racista e sexista, reitera o modo como fomos constituídos e o que somos enquanto sociedade brasileira”.
 Com as taxas de homicídio crescendo entre os negros e caindo entre os brancos, é fundamental olhar para frente, mas também refletir para o que temos sido. “Temos um país que mais mata a juventude e negros, mais mata pessoas transexuais e travestis, mais mata mulheres. O que estamos e vamos viver, do ponto de vista institucional por dentro do estado, tem atingido ampla maioria da população brasileira. A grande novidade é a de que, agora, todos serão tratados como negros. Diante do que temos, pensando que negro passa a ser o padrão de tratamento para todos os trabalhadores a partir de agora, o que faremos? Sintam-se todos negros nessa conjuntura”.
Com as taxas de homicídio crescendo entre os negros e caindo entre os brancos, é fundamental olhar para frente, mas também refletir para o que temos sido. “Temos um país que mais mata a juventude e negros, mais mata pessoas transexuais e travestis, mais mata mulheres. O que estamos e vamos viver, do ponto de vista institucional por dentro do estado, tem atingido ampla maioria da população brasileira. A grande novidade é a de que, agora, todos serão tratados como negros. Diante do que temos, pensando que negro passa a ser o padrão de tratamento para todos os trabalhadores a partir de agora, o que faremos? Sintam-se todos negros nessa conjuntura”.
Segundo Joana, a universidade precisa pensar a democracia para compreender e pensar a nação, com os sujeitos que a fazem. “Assim eu posso compreender ações e posturas, compreender o fenômeno do voto nesta eleição. Pensar a dimensão racial no tempo presente significa reconhecer que, como intelectuais, temos feito muito pouco”, frisa ela, complementando que esse diálogo é contemporâneo para pensar esse tempo e colocar as universidades como fronte desse debate.
Joana aproveitou para lembrar os avanços dos últimos tempos com relação à população negra e que, em decorrência disso, a elite brasileira passou a sofrer um desconforto porque não quer conviver e se relacionar nos espaços com aqueles que ‘não estavam previstos para sua convivência’, como universidade, aeroporto e cinema. “Esse desconforto está cada vez mais presente entre nós. É preciso apostar numa transformação da perspectiva cultural, na medida em que o racismo se espaia pelos diferentes espaços e está nas nossas relações. Para isso é preciso colocar em cheque a branquitude que se constitui na sociedade brasileira. Nas universidades, o principal foco de ataque serão as ações afirmativas. Como é que na UFSC, e cada um de nós, vai intervir neste momento em que o corte já é anunciado, sendo uma possibilidade de não mais existir no próximo ano?”, questiona a pesquisadora.
 Em seguida, Sandra Caponi contextualizou uma relação entre a política brasileira e argentina, principalmente sobre o início do governo de Mauricio Macri, dizendo que o que aconteceu na Argentina e no Brasil é semelhante. “Para entender o que aconteceu é preciso olhar, não só para o que o presidente eleito falava e mostrava com as atitudes, mas também para o que ele calava. Tudo aquilo que foi silenciado, era claramente anunciava por Paulo Guedes: nele estão depositadas as esperanças dos bancos, das grandes empresas, das bancadas. O mesmo aconteceu na argentina de Macri, com a ideologia neoliberal. Neste ponto, os dois se identificam totalmente”.
Em seguida, Sandra Caponi contextualizou uma relação entre a política brasileira e argentina, principalmente sobre o início do governo de Mauricio Macri, dizendo que o que aconteceu na Argentina e no Brasil é semelhante. “Para entender o que aconteceu é preciso olhar, não só para o que o presidente eleito falava e mostrava com as atitudes, mas também para o que ele calava. Tudo aquilo que foi silenciado, era claramente anunciava por Paulo Guedes: nele estão depositadas as esperanças dos bancos, das grandes empresas, das bancadas. O mesmo aconteceu na argentina de Macri, com a ideologia neoliberal. Neste ponto, os dois se identificam totalmente”.
Entretanto, há uma diferença significativa nas características discursivas: Macri não defende a violência, nem tortura, nem censura, mas existe uma violenta criminalização aos movimentos sociais. “A distância entre ambos é intransponível. Por mais que possam pensar a mesma coisa, a diferença é que o pensamento de Macri não pode ser enunciado porque receberia a mais absoluta reprovação da cidadania e da justiça”. Ao complementar, Caponi ressalta que o momento de separação entre Macri e Bolsonaro foi evidente na votação do impeachment da presidente Dilma Roussef; “Quando Bolsonaro dedica seu voto ao torturador Ustra (Carlos Alberto Brilhante) assinala, ao meu ver, o antes e o depois da democracia no Brasil. Mostra que a apologia ao delito e à tortura podem ser enunciados a viva voz no Congresso e ser transmitido ao mundo pela televisão. Esse ato, inadmissível, abre as portas para outras agressões que logo foram realizadas pelo candidato eleito contra trabalhadores, comunidades indígenas e quilombolas, LGBTs, mulheres, negros. Porque, quando a tortura pode ser exaltada e defendida a viva voz, é necessário que a justiça interfira e que a cidadania fique revoltada e enjoada, se não, toda forma de autoritarismo pode tornar-se aceitada, desde a escola sem partido até as manifestações de ódio e a ameaças físicas de políticos e adversários. Essa é uma diferença Macri e o candidato eleito”.
Para a professora é necessária uma autocrítica de como foi tratada a política de verdade e justiça por governos anteriores. “A apologia ao delito e à violência não fazem parte do jogo democrático, se situam no território alheio ao direito. Um exemplo é o caso da demissão de Hans-Georg Maassen, por Angela Merkel, porque pôs em dúvida uma manifestação violenta realizada por um grupo de ultradireitistas fascistas”. Neste contexto, Caponi lançou o questionamento de como pensar o marco de guerra à democracia no Brasil, com seus ataques às liberdades individuais e suas ameaças ao pensamento crítico e às minorias? “O fracasso do neoliberal abre as portas à destruição ao Estado de Direito. Como professores é preciso ter consciência para construir uma democracia sem democratas, ter sujeitos livres capazes de refletir e ser consciente dos seus direitos. O desafio é imaginar novas respostas coletivas e transnacionais para o desamparo, a violência e a desproteção que se multiplicarão. Que as respostas não sejam vistas como ameaças à população, mas que entendamos que há um esforço necessário para construir um mundo social que é impossível de ser construído a partir do ódio e da violência”, finalizou ela citando o romance ‘A Peste’, de Albert Camus: O vacilo da peste, como o fascismo, não morre nem desaparece jamais. Ele pode permanecer durante anos dormindo nos móveis, nas roupas, esperando pacientemente nas alcovas, nos porões, nas mantas, nos lenços, nos papéis, e que sempre pode chegar o dia no qual, a peste, como o fascismo, para a desgraça e a aprendizagem dos homens, acorda as suas ratazanas e se veem a morrer numa cidade feliz.
 Luis Felipe foi o terceiro membro da mesa a discorrer sobre as perspectivas da democracia pós-eleições e respondeu a essa questão de pronto: “a resposta mais sincera e curta é a de que não tenho ideia!”. Questionou sobre qual democracia estamos falando? Recorrendo ao modelo de trabalho ocidental, de concorrência, de liberal representatividade. “É um modelo que se encontra numa crise profunda, não só no Brasil. O funcionamento desse modelo, que permitiu a compatibilização entre a competição eleitoral e o sufrágio universal e o capitalismo, parece estar se erodindo. Parece que o povo só pode ser chamado a se manifestar se for para referendar as políticas de austeridade contra ele próprio num processo de desmocratização”.
Luis Felipe foi o terceiro membro da mesa a discorrer sobre as perspectivas da democracia pós-eleições e respondeu a essa questão de pronto: “a resposta mais sincera e curta é a de que não tenho ideia!”. Questionou sobre qual democracia estamos falando? Recorrendo ao modelo de trabalho ocidental, de concorrência, de liberal representatividade. “É um modelo que se encontra numa crise profunda, não só no Brasil. O funcionamento desse modelo, que permitiu a compatibilização entre a competição eleitoral e o sufrágio universal e o capitalismo, parece estar se erodindo. Parece que o povo só pode ser chamado a se manifestar se for para referendar as políticas de austeridade contra ele próprio num processo de desmocratização”.
As eleições de 2018, segundo Luis, foram baseadas numa participação popular eventual de decisão que acontece a cada quatro anos em que o eleitor se contenta com a informação limitada para expressar a sua opinião. “Isso não se revela mais. Esse modelo, que combinava participação eventual + informação limitada, não sobrevive ao WhatsApp, sem uma educação política mais permanente esses fenômenos da manipulação programada do público são, ao meu ver, incontroláveis”.
Assim, o professor sugere que é preciso pensar em formas de democracia que dão maiores condições para a presença política efetiva dos diferentes grupos de pessoas. “Se isso não acontecer, podemos manter processos eleitorais que se transformação em terras de fake news”. Sobre as expectativas de ações do presidente eleito quando assumir o poder, disse, novamente, que não sabe. “Acredito que temos uma situação complexa, por um lado a perda de legitimidade e por outro um sujeito incapaz de exercer as artes da política e do governo. O que vai acontecer quando a exigência de negociação se colocar? O que aparece, durante o pré-governo, é assustador, feito na base do enfrentamento”, frisa.
Luis também reforçou sobre o papel de resistência das universidades neste contexto. “Ficou claro que existe a disposição do Supremo (Tribunal Federal) de manter a relevância das universidades como agente político nesse novo momento. Mas será que isso basta? Na universidade pública estamos recuados, isso não é por acaso, existe um processo deliberado de despolitização da vida universitária, a ideia e o que se espera é que façamos uma espécie de trabalho intelectual alienado entre outras ações que nos desestimulam. Se começamos a recuar e a tivermos medo de falar estamos abrindo mão dos nossos direitos antes de eles serem tirados, e a escola sem partido é isso. O campo democrático vai ter que assumir um lugar capaz de articular as demandas emancipatórias dos diferentes grupos em algo como uma frente que não apague as prioridades diferenciadas, mas que seja capaz de colocar todos em formas de luta comum”, finalizou ele.
Antes de abrir os espaços para perguntas e contribuições dos presentes, a coordenadora do CFH fechou a mesa lançando a reflexão sobre ações e mobilizações necessárias. “Estamos diante de uma realidade que tem tendência para um campo ideológico fascista, ou neofascista, e precisamos questionar como vamos reagir a tudo isso no sentido de resistência, de reexistir e se colocar novamente nessa cena”.
Nicole Trevisol / Jornalista da Agecom / UFSC
*Fotos: Pipo Quint / Agecom / UFSC