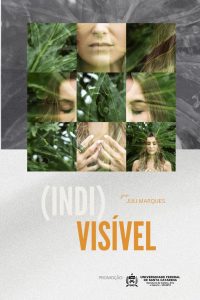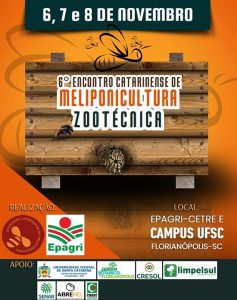Na Mídia: De anjos e imagens
CULTURA
De anjos e imagens
A vida póstuma, diz o filósofo Emanuele Coccia, é o nosso próprio ser enquanto imagem
Em Nudez (2009), Giorgio Agamben argumenta que a filosofia e a crítica herdaram a obra profética da salvação, ao passo que a poesia, a técnica e a arte teriam recebido, no entanto, o imperativo angélico da criação. Embora separadas, ambas as esferas não se distinguem, a rigor, reciprocamente, porque é fato que as duas, em aparência autônomas e estranhas entre si, são, na verdade, as duas caras de um mesmo poder divino que, ao menos no profeta, convergem em um único ser.
A obra da criação seria apenas uma faísca da salvação, enquanto a obra da salvação não passaria de um fragmento da criação angélica, que se torna autoconsciente. Assim, Agamben define o profeta como um anjo que, no mesmo movimento em que é empurrado à ação, percebe, de repente, na própria carne, a ferida de uma exigência de outro tipo. Por isso o filósofo argumenta que a obra da salvação coincide, pontualmente, com a obra da criação. São a mesma coisa.
Não há gesto, não há fala, não há desejo nem olhar que a salvação não suspenda e torne inoperantes, em sua luta, amorosa, corpo a corpo, com a ideia de obra. Por isso aquilo que o anjo forma e produz, o profeta reconduz ao informe, para melhor contemplá-lo. Seus olhos veem aquilo que se salvou, porém, isso se consegue só no último dia, na antessala do fim. E assim como, na lembrança, o amado torna-se presente, mesmo desencarnado em uma simples imagem, da mesma forma, a obra da criação é, sob todos os aspectos, trespassada de não ser, isto é, de paradoxal negatividade operante.
Na esteira do mestre, Emanuele Coccia retoma a ideia em A transparência das imagens. Averróis e o averroísmo (Milão, Bruno Mondadori, 2005), onde desenvolve a tese de que Averróis, o filósofo andaluz, aclimatando Aristóteles na filosofia medieval europeia, cunha pela primeira vez uma teoria da imagem que a modernidade, mais tarde, só fez esquecer. Em parceria com Giorgio Agamben, de quem foi, aliás, assistente, em Veneza, Coccia é também autor do recente e monumental (mais de duas mil páginas) Anjos: Hebraismo, Cristianismo, Islã (Milão, Neripozza, 2009).
Tanto em A transparência das imagens quanto em seu último livro, A vida sensível (2010), editado, em Florianópolis, pela novíssima editora Cultura e Barbárie, em simultâneo com a tradução para o espanhol e antes mesmo da tradução ao francês, pela editora Rivages, Coccia associa a vida das imagens à sorte das ruínas.
A seu ver, a imagem é ruína porque, como já o delata a etimologia de imago, a máscara mortuária em gesso, a imagem é aquilo que resta, aquilo que testemunha uma vida que já passou. Em outras palavras, tudo quanto resta da morte é a possibilidade de a imaginarmos e, portanto, cada coisa vive já, enquanto imagem, um tempo posterior a seu próprio desaparecimento.
A vida póstuma (Nachleben), sobre a qual refletiram, entre outros, Benjamin, Warburg ou, mais contemporaneamente, Didi-Huberman, é a vida das coisas enquanto imagens. Mas, nesse sentido, a imagem, lacônica e rápida, é sempre testemunho de uma vida que existe em estado de ruína ou, se preferirem, imagem é o testemunho e o vestígio de um processo de transformação que ainda vive em nós, como passado absoluto.
Mas aí cabe perguntar-se o que é que, em nós, se torna ruína, se destrói, cada vez que nos tornamos imagens? Pergunta, aliás, que já se colocavam, logo após a guerra, e com diversas perspectivas, Guy Debord, para quem a sociedade é espetáculo, ou Jaques Lacan, para quem o sujeito é uma tela, algo da ordem do informe que é determinado apenas por um espelho, ou antes, pela travessia de um espelho.
Mais até: o sujeito é resto e sua leitura não consiste mais na interpretação da verdade oculta, mas no trabalho com seu resíduo. Jacques-Alain Miller fala mesmo de uma salvação pelos dejetos em vez de uma típica salvação pelos ideais. A resposta, em suma, é que morre, no contemporâneo, a noção de que o homem é uma substância, uma qualidade, e de que a história é uma vivência. Morrem a fenomenologia e o humanismo. São hoje ruínas.
Contudo, se a imagem é sobrevivência, isso quer dizer que a vida das imagens, da qual já falava Focillon ou mesmo Malraux, através de seu museu imaginário, não capta a vivência delas, mas a experiência de as imagens terem sobrevivido à sua dissolução, a seu próprio fim, na medida em que são ruína de si mesmas.
A vida póstuma, diz Coccia, é o nosso próprio ser enquanto imagem, uma vida elevada ao segundo grau, emanada por todos nossos gestos e que atravessa tudo quanto é tocado por nossas imagens, a tal ponto que isso redefine uma filosofia apocalíptica da história. Na detenção absoluta da história, que é o tempo de todas as imagens – toda a memória do mundo, diria Resnais, todas as história(s) do mundo, diria Godard –, o tempo da ruína vive nos interstícios de nossas vidas, nos entretempos e entrelugares das nossas experiências, nos vazios que se abrem ou abandonam entre um ato e outro. Nesse ponto vertiginoso, tudo absolutamente devém ruína, não porque tudo seja automaticamente destruído, mas porque tudo alcança a potência de sobreviver a seu próprio tempo.
Simmel admitia que, em toda ruína, algo do humano, algo da espécie, chega a se constituir enquanto natureza, enquanto species, enquanto imagem. Ou seja, que a vida torna-se natureza, em nós, apenas em nossas imagens, porque a imagem não é semelhança da impressão com relação às coisas já existentes. A imagem, porém, aponta o lugar, que não existe para além do evento, em que cada coisa deixa de assemelhar-se ao modelo. Perdida toda qualidade, a imagem, enquanto Coisa, é ruína da própria impossibilidade de reconhecer-se em si. “Immagine è il senza-somiglianza di ogni cosa”, diz Coccia, ou seja, a imagem é a mais íntima e intransferível dessemelhança que cada coisa guarda para consigo. É distância e diferença, mas não identificação; é separação, mas não alienação.
Nesse ponto do percurso teórico, a teoria das imagens de Coccia torna-se angelologia porque anjo é, segundo a teologia medieval, aquele indivíduo que assume e compendia, recolhe e contempla, em si, toda a matéria possível da espécie. Por outro lado, chamava-se demônio o indivíduo que, incapaz de retê-la, expelia-a e expulsava-a de si. Os anjos eram intermediários entre o alto e o baixo e diluíam a face do singular no universal; os demônios, no entanto, dividiam e distinguiam, impediam o reconhecimento, em cada indivíduo, das marcas e vestígios do humano.
Por isso cada anjo é o lugar em que a ruína reassume uma facies, um rosto, porque o domínio dos anjos – relembremos o Agamben de Nudez – é a poesia, a técnica e a arte. Arthur Omar chamou esse momento de êxtase de conquista do rosto glorioso. Ora, esse é o momento em que o corpo recupera a espessura da semelhança opaca de tantos outros corpos anônimos. Embora cada um de nós seja, infinita e genericamente, substituível, a ruína é sem semelhança, é insubstituível, e, por esse mesmo motivo, Coccia chama de anjo tudo aquilo que, ligando-nos à ruína, nos impede de reaparecer e ressurgir, enquanto imagem, em forma de completude, de tal sorte que a história não passaria de uma luta com o próprio anjo, que é o custódio e guardião de nossa identidade, mas também uma resistência à ruína das coisas e à sua mais perpétua corrupção.
Em um de seus sonetos, Pasolini descreve um anjo que fez uma anunciação “definitiva senza appello”, conclusiva e sem retorno. Mas, logo a seguir, houve um segundo anjo que fez um outro anúncio e deu assim um desvio, uma imagem, à solitária estrela da vida inteira. O homem foi atrás, com a mesma alegria. “Ma pian piano / è alla prima”, ou seja, devagar, imperceptivelmente, o póstumo reabriu a série, recolocou o problema do tempo.
Poderíamos pensar então que o instante apocalíptico, que estava presente na filosofia da história de Walter Benjamin, no encapsulamento da verdade de Derrida, no dia-do-juízo de Agamben, seja, segundo Coccia, o tempo em que cada coisa vive seu destino de imagem. Nesse momento irreversível, só as imagens podem nos guiar (se saída houver) e só elas podem nos salvar (se salvação tivermos). Não por acaso, em ABC das catástrofes, Aníbal Machado dizia que, no estado de ruína, os velhos prédios se convertem à religião.
POR RAÚL ANTELO
* Professor titular de Literatura Brasileira da UFSC, autor de Ausência e Crítica Acéfala
Leia também: Emanuele Coccia é primeiro convidado da UFSC no ciclo Pensamento no Século XXI