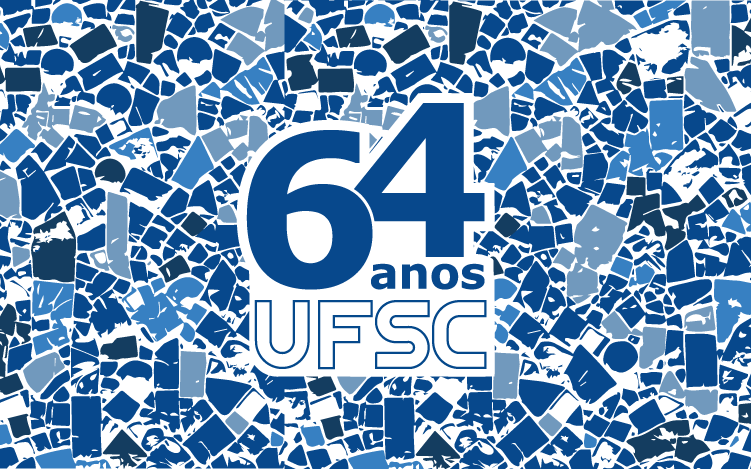Uso de plantas e conservação: abordagens etnobotânicas. Este é o tema do simpósio que vai discutir o uso de plantas que podem servir ao homem e como essa relação pode ocorrer em conjunto com a conservação do meio-ambiente. O simpósio, que contará com a presença da professora Natalia Hanazaki e dos pesquisadores Cristina Baldauf e Alexandre Siminski, todos da UFSC, acontece na tarde dessa segunda-feira, 17/7, das 16h às 17h45min, na sala EEL 004, bloco A térreo do Centro Tecnológico. O evento, que está sendo organizado pela Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia (SBEE), integra a 58ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), está acontecendo na UFSC até segunda-feira.
A Etnobotânica
Essa é a ciência que estuda e interpreta a história e a relação entre as plantas e os homens em uma determinada localidade. Através dela é possível conhecer as sociedades, suas culturas e até mesmo criar subsídios para a recuperação de suas histórias. Congregando vários ramos do conhecimento humano, como a história, a antropologia, a botânica e a ecologia, a Etnobotânica utiliza o conhecimento tradicional de determinadas populações locais em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas e da conservação do meio ambiente.
Sua importância está na valorização dos conhecimentos e das medicinas tradicionais das comunidades, na utilização dos seus estudos para a preservação da flora, na ampliação do conhecimento sobre as propriedades úteis de espécies vegetais e na aquisição de subsídios para estudos étnicos, antropológicos, botânicos e ecológicos sobre os povos envolvidos na pesquisa.
A professora do Departamento de Ecologia e Zoologia, Natalia Hanazaki, vice-presidente da SBEE e doutora em Ecologia pela Unicamp, explica que o termo Etnoecologia é, assim como Ecologia Humana, referente à relação entre os seres humanos e o ambiente. A Etnoecologia, no entanto, possui suas raízes na Antropologia, apesar de possuir influências de outras áreas e de hoje constituir-se claramente como uma área de confluência entre as ciências biológicas e as ciências humanas.
Segundo a professora, o prefixo “etno” começou a ser usado com dois significados: primeiro, para fazer referência a um grupo étnico em particular e, segundo, para se relacionar às percepções ou visões do grupo local sobre o fenômeno em questão.
Natalia afirma que a Etnoecologia pode ser usada para cobrir toda uma gama de estudos de história natural derivados de populações locais – incluindo outras áreas de estudo como a Etnobiologia, a Etnobotânica, a Etnoentomologia e a Etnozoologia – não se restringindo, no entanto, à história natural a partir de uma perspectiva antropológica. A Etnoecologia procura, portanto, fornecer um entendimento dos sistemas de conhecimento de populações locais, investigando a sua percepção, conhecimento e relação com o ambiente natural, sem ignorar os aspectos históricos e políticos que influenciaram na cultura em questão.
Ainda segundo a professora, o conhecimento tradicional das comunidades pode complementar o conhecimento científico através do fornecimento de experiências práticas derivadas da convivência destas comunidades com os seus respectivos ecossistemas.
A ecóloga finaliza afirmando que entre as maiores contribuições do desenvolvimento da Etnoecologia para as questões que envolvem as populações locais, estão: a possibilidade de uma melhor compreensão de como estas sociedades percebem, estudam e classificam o seu ambiente natural e o estabelecimento de uma ligação direta entre o conhecimento construído localmente e o conhecimento acadêmico-científico, além da possibilidade de resgatar e valorizar um conhecimento que tende a desaparecer rapidamente. Natalia ressalta que os estudos etnoecológicos – junto às suas implicações sociais, ideológicas e éticas – possibilitam aumentar a representatividade de uma parcela da sociedade, que é freqüentemente marginalizada nos processos de tomada de decisão formais, em relação aos recursos que utilizam.
Estrativismo da samambaia preta
A pesquisadora Cristina Baldauf, do Laboratório de Ecologia Humana e Etnobotânica, do Centro de Ciências Biológicas (CCB), e do Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais, do Centro de Ciências Agrárias (CCA), vai falar sobre o extrativismo da samambaia-preta no Rio Grande do Sul. O trabalho, que foi tema da sua dissertação de mestrado em Biologia Vegetal, buscou subsidiar o manejo sustentável da espécie e fundamentar o processo de licenciamento da coleta deste recurso florestal.
Cristina afirma que a samambaia-preta destaca-se entre as demais devido à sua importância econômica, pois suas folhas são comercializadas mundialmente para a confecção de arranjos. Segundo a pesquisadora, é provável que mais da metade das folhas de samambaia-preta comercializadas no país seja oriunda do litoral do Rio Grande do Sul, onde a espécie ocorre de forma abundante e onde o seu extrativismo é fonte de renda de inúmeras famílias.
A coleta, que quase sempre é feita diretamente no ambiente natural da espécie, sofre restrições devido à legislação ambiental do RS, porém o seu manejo é permitido quando cumpridas algumas especificações, como o estudo sobre a produtividade da espécie explorada, sua demografia e interações com outras plantas, o impacto ambiental causado pela atividade extrativista e os procedimentos e alternativas que minimizem esse impacto.
A pesquisadora, que desenvolveu seu estudo no município de Maquiné (RS), afirma que os resultados demonstram que os sistemas de manejo estudados não afetam negativamente a estrutura demográfica e genética da espécie, sendo possível a regulamentação da coleta da samambaia-preta no RS. Cristina constatou, no entanto, um declínio das populações da espécie em ambientes com estrutura florestal em fases mais avançadas de sucessão (processo que implica na substituição progressiva de uma comunidade vegetal ou animal por outra mais apta). Ainda segundo a pesquisadora, os resultados obtidos permitem estabelecer indicadores de sustentabilidade para o licenciamento e monitoramento da atividade extrativista na região de estudo, no entanto esse licenciamento deve ser pensado de forma mais ampla e considerar a necessidade de medidas que viabilizem o manejo nas áreas de capoeira (área composta de uma vegetação nascida após a derrubada da mata virgem).
Roças em Santa Catarina
O pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais, ligado ao Departamento de Fitotecnia do CCA, e doutorando em Recursos Genéticos Vegetais pela UFSC, Alexandre Siminski, levará ao simpósio o seu trabalho sobre o conhecimento local no sistema de cultivo em roças em Santa Catarina. Segundo o pesquisador, ainda que potencialmente nociva ao meio ambiente, a atividade agrícola pode ter uma relação direta com a conservação dos recursos naturais, pois ela depende diretamente deles para a sua continuidade.
Alexandre explica que, mais do que uma atividade puramente comercial, a agricultura também é uma atividade cultural. As práticas utilizadas pelos agricultores tradicionais, em sua relação com o meio, são decorrentes das suas experiências acumuladas na luta pela reprodução das condições de existência material e social. Esse saber tradicional, explica o pesquisador, caracteriza-se por ser heterogêneo, contraditório, difuso, dinâmico e com capacidade de renovação, em função de seu caráter prático e vivo. Ele é parte da cultura do agricultor e instrumento fundamental na elaboração de sua identidade social.
Segundo o pesquisador, a floresta fazia parte de um ciclo de cultivo de espécies anuais nas pequenas propriedades agrícolas do litoral de Santa Catarina. Neste cultivo feito através da agricultura de pousio, tradição milenar da maioria das populações indígenas que foi assimilada pelas populações remanescentes dos processos de colonização, a floresta é suprimida e o solo é ocupado com culturas anuais por alguns anos até o declínio da sua fertilidade natural, sendo deixado em pousio até que tenha condições de suportar um novo ciclo de cultivo.
Através da observação do meio em que vivem, os agricultores adaptaram as técnicas de cultivo de modo a permitir a sua continuidade. Alexandre destaca que as observações dos agricultores permitem enfatizar que o processo de sucessão e de recuperação do solo na região é muito rápido, o que permitiria dizer que a agricultura de pousio é sustentável, pois nunca haveria a necessidade da derrubada de toda área de capoeira dentro das propriedades.
Com o surgimento de novas legislações ambientais no final dos anos 80 e com o conseqüente aumento da fiscalização, Alexandre mostra as transformações no sistema produtivo e exploratório das propriedades agrícolas da região como resultado dos conflitos de interesses entre as partes envolvidas na questão. Um dos pontos de maior discórdia estaria nos parâmetros que a Resolução no 04/94 do CONAMA estabelece para definir a vegetação no estágio inicial de regeneração, única vegetação passível de supressão total, como requer a agricultura de pousio.
Segundo a observação prática dos agricultores, este estágio inicial ocorre entre cinco e sete anos após o abandono dos terrenos, período que difere em muito dos 15 a 25 anos de pousio necessários para a nova utilização da terra pelos agricultores. Essa limitação ao uso das áreas com remanescentes florestais é apontada como responsável pelo comprometimento da continuidade do sistema produtivo, uma vez que pressupõe a derrubada da vegetação em um estágio de regeneração no qual a fertilidade do solo ainda não está recuperada do desgaste provocado pelos anos de cultivo.
Segundo Alexandre, em 65% das propriedades da região estudada houve redução da área de cultivo nos últimos 15 anos. Quanto às mudanças no sistema de cultivo, o tempo de repouso foi reduzido para evitar que as áreas onde a roça é implantada ultrapassem os limites permitidos pela legislação para derrubada ou corte raso. As roças também foram transferidas para locais mais distantes e de difícil acesso com a finalidade de se “esconder da fiscalização”, assim como a quantidade de roças diminuiu consideravelmente e estas passaram a ser “menos móveis”.
O pesquisador observa que as florestas passaram de integrantes do sistema produtivo, como uma das etapas do ciclo (pousio), a um empecilho ao atendimento das necessidades dos produtores rurais. Para Alexandre, a mudança na percepção da importância das florestas é resultante da intensificação das exigências para o uso de seus recursos, e da escassez de alternativas legais para o aproveitamento de seus benefícios. Os agricultores, por sua vez, têm como estratégia não deixar as áreas de pastagem e capoeirinhas se desenvolverem, pois para eles isso significa uma redução do potencial de uso e conseqüente perda de valor da terra.
Mais informações:
Natalia Hanazaki / natalia@ccb.ufsc.br / 3331-9460
Cristina Baldauf / crisbaldauf@yahoo.com.br / 3331-5337
Alexandre Siminski / alesiminski@yahoo.com.br / 3331-5337
Fonte adicional:
http://www.aultimaarcadenoe.com/etnobotanica.htm
Por: Daniel Ludwich / bolsista de Jornalismo na Agecom